A pintura é um silźncio? Ou qual a voz da pintura?
Is a painting silence? Or what’s the voice of a
painting?
Vanessa Tavares da Silva[55]
https://orcid.org/0000-0003-4943-6166
Resumo: Neste trabalho, examinaremos o processo
pictórico e a pintura a partir da perspectiva que relaciona literatura e
oralidade. Para tanto, apresentaremos os procedimentos do artista visual
brasileiro Eduardo Berliner em uma de suas pinturas, Leda e o Cisne, com a qual o artista retoma um dos mitos gregos. De
modo amplo, tomam-se os estudos da oralidade como o resgate de um ponto
fundamental do estabelecimento das relaćões entre os seres e o mundo, que,
embora invisível, é vigente. Assim,
verificar-se-á, por meio dos desvios estabelecidos nas análises, os
procedimentos e a pintura de Berliner como locus de vigźncia de aspectos
primários da oralidade, assim como questões da performance e do mito, trazendo
ą tona mais uma via de compreensčo da pintura, sendo ela também possibilidade
de espaćo de resistźncia ą relaćčo com o mundo somente pela via da razčo.
Tomamos como base o pensamento de Walter Ong (1998), Paul Zumthor
(1993) e Michele Simonsen (1987), entre outros autores, cujas visões nos
auxiliaram na perspectiva de uma compreensčo mais ampla sobre a pintura e os
procedimentos que a envolvem, dando-nos a perceber a presenća da oralidade,
também nessa esfera, de modo a ampliar a apreensčo sobre as relaćões entre a
humanidade e o mundo.
Palavras-chave: Pintura; Oralidade; Desvio; Processo criativo.
Abstract: We
will examine the pictorial process and painting relating literature and
orality. We will address the procedures of the Brazilian visual artist Eduardo
Berliner (1978) and one of his paintings, Leda
and the Swan (2015), in which the artist takes up one of the Greek myths.
Broadly speaking, the studies of orality are seen as the retrieval of a
fundamental feature in the establishment of relations between human beings and
the world, which, although invisible, is in force. Thus, through the deviations
established in the analyses, we will establish Berliner's procedures and
painting as the validity locus of primary aspects of orality, as well as issues
of performance and myth, bringing to light yet another way of understanding a
painting, which is also the possibility of a space of resistance to the
relationship with the world only through reason. We draw from the thoughts of
Walter Ong, Paul Zumthor and Michele Sominsen, among other authors, whose visions have helped us
build a broader understanding of painting and its procedures, giving us insight
into the presence of orality, also in this sphere, in order to broaden our
perception of the relationship between humanity and the world.
Keywords: Painting;
Orality; Deviation; Creative process.
Introdućčo
Os objetos, hoje, objetam. No futuro, objetos e gestos revestir-se-čo
porventura da dignidade perdida. A palavra amor, um pedaćo de pčo, a letra A,
deixarčo assim de ser acidentes mortais da vida quotidiana. Dessacralizados,
voltarčo a ser tčo decisivos como a mais ínfima pincelada que o pintor realizou
no quadro. E cada uma destas pinceladas revelará a estrutura do mundo.
Ernesto Sousa
O que, no jogo
de tensčo provocado por formas e cores, é possível ser ouvido? No presente
estudo, desenvolver-se-á a tentativa de estabelecer e/ou reconhecer elementos
com os quais possamos compreender e apreender a produćčo pictórica do artista
brasileiro Eduardo Berliner na esfera do que as perguntas que aqui orbitam
permitem como possibilidade de resposta.
O que há como
pano de fundo, além das detecćões dos traćos de oralidade, é a compreensčo ou o
desvelamento do papel da arte (seja ela literária ou pictórica) de superar os
achatamentos e simplificaćões advindos do projeto moderno de civilizaćčo, que
privilegia a razčo como medida de compreensčo e definićčo de mundo.
A partir da
pergunta feita por Ernesto Sousa, que intitula um de seus textos publicado em
1968, Oralidade, futuro da arte?, o autor lanća, para o futuro, uma
perspectiva da totalidade das coisas, de nós mesmos e dos outros, na qual as
relaćões nčo mais se dariam a partir de suas funcionalidades e essa
possibilidade residiria, possivelmente, na retomada daquilo que foi abandonado
ou simplesmente esquecido (SOUSA, 2011 p. 41-42). Foi a partir da pergunta do
autor que surgiram as duas indagaćões que intitulam este texto num aparente
paradoxo. O próprio estudo se dará como possibilidade de resposta, ao
evidenciar o existente que nčo é percebido pela via do visível: a oralidade.
Eduardo Berliner e os pontos disparadores para a investigaćčo
O artista tem
uma produćčo que passa a figurar no cenário nacional e internacional desde
meados de 2008, ano da aquisićčo do Prźmio CSI Marcantonio Vilaća. Depois
disso, foi convidado para expor na 29Ľ Bienal Internacional de Sčo Paulo, em
2010, e tem mantido uma produćčo constante, participando de importantes mostras
e exposićões individuais e coletivas, dentro e fora do país.
A perspectiva
adotada para o engendramento das questões levantadas se dá, também, a partir do
caráter processual, algo evidente na pintura do artista em questčo. Embora o
caráter processual seja inerente a toda e qualquer produćčo, nčo
necessariamente artística, referimo-nos aqui ą sua evidźncia como mais uma das
pistas que reiteram o sentido de determinadas obras. Num breve retrospecto,
notamos no Romantismo, que negava fatores como a racionalidade e a
representaćčo, o aparecimento do caráter processual e tomamos como exemplo as
pinturas de Turner (1775-1851). No Impressionismo, o caráter processual passa a
ganhar mais evidźncia e nčo nos faltam exemplos, como as pinturas de Monet (1840-1926), Renoir (1841-1919) e Morisot (1841-1895).
Seguimos nos deparando com a evidźncia da processualidade
nas obras ao longo de outros movimentos artísticos, assim como nas Vanguardas
Artísticas Europeias do início do século XX e, do mesmo modo, seguimos com esta
detecćčo para momentos importantes como a Action Painting norte-americana na década de
1950, movimento que nos direciona para a ideia de performatividade
como um dado do aspecto processual na pintura.
O ponto de
partida para este estudo envolve o que o próprio artista diz sobre seu processo
em vídeos recentes sobre sua produćčo. Neste ponto, estabeleceremos relaćões
entre algumas de suas falas e aspectos da oralidade, advindos do pensamento de
Walter Ong e de Paul Zumthor. Em seguida, faremos o
paralelo entre a pintura, em linhas gerais, desde o processo e a evidźncia da processualidade em sua materialidade, até as possibilidades
de fruićčo e a performatividade, segundo Zumthor, estabelecendo a ideia de jogo como uma estrutura
ampla. Por fim, a partir da pintura Leda
e o Cisne, organizaremos, em princípio, uma leitura formal para, a partir
dela, seguirmos evidenciando, com mais amplitude, suas possibilidades de
sentido.
Pintura como gźnero: desvio
A pintura é um silźncio? O modo mais
comum e restrito de resposta, ou seja, a partir de um olhar meramente funcional,
seria: sim, a pintura nčo fala. Ela nasce como pintura, para ser pintura e,
portanto, atua nessa esfera da linguagem, a da visualidade. A essa
possibilidade de explicaćčo, é necessária a abertura da superfície de
compreensčo, sendo a pintura, também, algo que compõe o mundo, faz parte do
campo gerador de sentidos numa dinČmica que pode nos levar ą totalidade das
coisas, na qual os sentidos se interpenetram, sčo atravessados uns pelos outros
e se complementam. Neste estudo, será restituída ą pintura a face que a compreensčo
de mundo, apenas pela via da razčo, abrevia.
Para tanto, a
ideia de desvio será dada pela tomada de empréstimo da concepćčo de romance de
Bakhtin (1998) para entčo encontrarmos na pintura de Berliner, por essa mesma
via, as marcas da oralidade primária a partir do pensamento de Walter Ong
(1998). Para Bakhtin: “o romance é o
único gźnero por se constituir, e ainda inacabado. [...]. A ossatura do romance
enquanto gźnero ainda está longe de ser consolidada, e nčo podemos ainda prever
todas as suas possibilidades plásticas” (BAKHTIN, 1998, p. 397). A ideia é a de
nos atermos a um tipo de pintura ą qual essa definićčo caiba, salientando a
prematuridade de tomá-la como definitiva, já que a presente pesquisa nčo toma
como base um amplo aspecto investigativo. Por ora, com base na extensčo deste
estudo, a convergźncia entre a concepćčo de romance de Bakhtin e uma possível
definićčo pictórica, se dará a partir do que Nicolas Bourriaud
indica como um dos pontos de conquista da pintura moderna e que, na concepćčo do
autor, é fundamental para a compreensčo das relaćões entre arte e vida na
contemporaneidade; segundo ele,
A
primeira luta da pintura moderna consistiu, evidentemente, em conquistar sua
autonomia expressiva, mas tal reivindicaćčo nčo passava do prelúdio de uma luta
de morte contra a nova ideologia do trabalho: a arte moderna se dá pelo
objetivo de constituir um espaćo dentro do qual o indivíduo possa finalmente
manifestar a totalidade de sua experiźncia e inverter o processo desencadeado
pela produćčo industrial, a qual reduz o trabalho humano ą repetićčo de gestos
imutáveis numa linha de montagem controlada por um cronômetro (BOURRIAUD, 2011,
p. 13).
O que nos leva a
compreender a pintura como espaćo de acontecimentos que nčo sčo previamente
calculados, como uma atividade nčo submetida a uma lógica decorrente de
operaćões correlatas a outros tipos de trabalho e que, no limite, converge com um
modo de conceber a vida, ligado aos movimentos nela engendrados, próximo das
experiźncias vividas. É neste ponto que se inicia a possibilidade de
deslocamento daquilo que Walter Ong evidencia como próprio do modo como se dá a
formulaćčo do conhecimento na cultura oral, pois
Na
ausźncia de categorias analíticas aperfeićoadas, que dependem da escrita para
organizar o conhecimento distante da experiźncia vivida, as culturas orais
conceituam e verbalizam todo o seu conhecimento como uma referźncia mais ou
menos próxima ao cotidiano da vida humana, assimilando o mundo estranho,
objetivo, ą interaćčo imediata, conhecida de seres humanos (ONG, 1988, p. 53).
Esse aspecto
mais direto nos aproxima da concepćčo de totalidade, distanciando-nos de
designaćões e, portanto, do modo, apenas,
funcional das coisas. Ainda assim, tudo pode “funcionar”, mas a diferenća,
nesse sentido, reside na interaćčo com a amplitude de possibilidades que nós,
os outros, as coisas e toda a sorte acontecimentos, portanto, oferecem
cotidianamente de modo direto e nčo previamente calculados. Num movimento de
maior amplitude, podemos nos reencontrar com a “dignidade perdida”, conforme
Souza (2011) aponta.
Silźncio
No caso de Berliner é a consciźncia da intransponibilidade entre o
dizível e o visível (entre a compreensčo oral e a coisa em si) que fará que ele
busque outra sintaxe visual, cuja narrativa vai impregnar a imagem nčo mais
pela ideia da forma como fôrma, mas através da forma que se transmuta
constantemente pela metamorfose.
Marcio Doctors
Em um vídeo,
Eduardo Berliner fala sobre o tempo em seu processo de preparaćčo para o
trabalho. Para ele, a pintura tem início antes mesmo que algo passe a figurar
em suas telas, que, em geral, sčo de grandes dimensões. Nessa extensčo de
tempo, o artista fala sobre o cessar gradativo dos diálogos internos e do ruído
do mundo, que passam a dar lugar ao processo como agente e, assim, segue na
constituićčo pictórica. Segundo o artista: “a partir de um ponto o processo age como coautor; o processo conta uma
história em paralelo, que nčo é linear [...] é uma pintura”. Sobre parte
de seu repertório, ele comenta: “costumo
trabalhar coletando, registrando minhas percepćões do mundo: coisas que eu
vejo, coisas que eu oućo”[56].
Dado esse
estágio, o que se instaura em suas pinturas sčo elementos do mundo, os que o
artista coleta no transcorrer dos dias, assim como os que residem em sua
memória. A partir da movimentaćčo processual e do silźncio no ato criativo,
esses elementos se reorganizam na tela, seguindo a ordem constitutiva da
linguagem. Estabelecem-se, entčo, novos
jogos de sentido.
As vozes
cotidianas dispersam as palavras no leito do tempo, ali esmigalham o real; a
voz poética os reúne num instante único – o da performance –, tčo
cedo desvanecido que se cala; ao menos, produz-se essa maravilha de uma
presenća fugidia mas total. [...]. A voz poética é, ao mesmo tempo, profecia e
memória [...]. A memória, por sua vez, é dupla: coletivamente, fonte de saber;
para o indivíduo, aptidčo de esgotá-la e enriquecź-la. Dessas duas maneiras, a
voz poética é memória (ZUMTHOR, 1993, p. 139).
Em comentários
sobre seu processo de criaćčo, notamos que a memória é também um dos grandes
agentes e é possível observar o paralelo acerca do que Ong (1998, p. 50) nos
diz sobre o caráter das formulaćões nas tradićões orais, já que
Nčo há
nada para retroceder fora da mente, pois a manifestaćčo oral desapareceu tčo
logo foi pronunciada. Por conseguinte, a mente deve avanćar mais lentamente,
mantendo perto do foco de atenćčo muito daquilo com que já se deparou. A
redundČncia, a repetićčo do já dito, mantém tanto o falante quanto o ouvinte na
pista certa.
Nesse sentido,
poder-se-ia pensar na pintura como um modo de fixar o aspecto fugidio da mente;
entretanto, trata-se de uma compreensčo apressada. Embora estejamos falando
sobre aspectos processuais, ou seja, os que antecedem a imagem final, é
possível também compreender o caráter indeterminado e incerto daquilo que se
apresenta na própria pintura. Segundo Blanchot (1987,
p. 84), “Cada obra, cada momento da obra, volta a pôr tudo em questčo, e aquele
que deve apenas ater-se-lhe, nčo se atém, portanto, a nada. Seja o que for que
ele faća, a obra retira-o do que ele faz e do que pode”. Ou seja, uma pintura
pode ser um tipo de experiźncia diversa a cada vez que com ela nos defrontamos.
Assim, conectamo-nos com seu aspecto de totalidade, pois já nčo nos veríamos
mais, em relaćčo a ela, a partir de trajetos pré-definidos, tendo o aspecto
fugidio como uma constante, desde o que antecede o próprio processo, atua na processualidade e se faz presente na obra finalizada.
Pintura e performatividade
Como dito inicialmente, a processualidade
passou a figurar no campo dos sentidos e nos interessa pensá-la como um aspecto
que guarda em si um dado performativo. De modo bastante elementar, pensaremos
no dado performativo como o conjunto dos gestos que geram determinada obra,
aqui, no caso, a pintura. Para tanto, tomaremos de empréstimo o sentido de
performance como jogo de Zumthor. Em suas palavras: “A performance é jogo, no
sentido mais grave, senčo no mais sacral, deste termo” (ZUMTHOR, 1993, p. 240),
e esta definićčo implica uma estrutura de compreensčo mais complexa, que
abrange o conjunto de gestos ora mencionados, perceptíveis, também, a partir de
uma visualidade.
Em A
letra e a Voz, livro
publicado em 1993, Zumthor apresenta questões
relativas ao texto e ą imagem, referindo-se ąs iluminuras, atestando a
correspondźncia e a complementariedade entre as dimensões visuais e auditivas
e, novamente, tomamos tal perspectiva para vislumbrarmos as possibilidades
relacionais com a pintura, compreendendo aspectos da recepćčo na estrutura
complexa de jogo mencionada anteriormente:
O diálogo visualizado, por oposićčo ao
texto que constitui materialidade em seu lugar, volta-se para a ordem
sensorial. Restitui o olho as condićões empíricas, concretas, das percepćões
“naturais”. O artista nčo dispõe de meios para fazer escutar a voz; mas pelo
menos cita a intencionalidade naquele contexto, confiando ao olho a tarefa de
sugerir ao ouvido a realidade sonora (ZUMTHOR, 1993, p. 125).
A respeito das pinturas no modo como hoje as
concebemos, Zumthor (1993, p. 125) afirma que a
diferenća de procedimentos entre elas e as imagens medievais reside na
“ausźncia da narrativa explícita”. Em outra passagem, o autor relaciona a
pintura ą oralidade, retomando as palavras de um trovador medieval:
A pintura – explica no século XIII Richart de Fournival para
justificar a ilustraćčo de seu Bestiaire d’amour – tem por virtude tornar presentes as
coisas comemoradas... como o faz a palavra pronunciada, no momento em que se
escuta; o texto de Richart é claro e nčo faz
referźncia ą escritura, mas somente ą percepćčo auditiva. No triČngulo da
expressčo, a imagem tem sua parte ligada com a voz. A imagem também só se
comunica na performance (ZUMTHOR, 1993, p. 127, grifos do autor).
Retomando a noćčo de desvio, seguimos com o
autor no caminho que sugere sua frase: A
imagem também só se comunica na performance, a partir de suas consideraćões
em Performance, recepćčo e leitura, publicado em 2007, ao nos dizer sobre o olhar
versus ler:
O olhar nčo pára
de escapar ao controle, registra, sem distinguir sempre, os elementos de uma
situaćčo global, a cuja percepćčo se associam estreitamente os outros sentidos. A vista direta gera assim uma
semiótica selvagem, cuja eficácia provém mais da acumulaćčo das interpretaćões
do que de sua justeza intrínseca. O latim medieval designava pelo termo signatura o resultado dessa atividade do olho
humano. Signatura implica que o olhar transforma em signum o que ele
percebeu. O objeto dessa percepćčo é speculum, palavra-chave das culturas medievais: um reflexo
emana disto e, como reflexo, exige a interpretaćčo (ZUMTHOR, 2007, p. 72,
grifos do autor).
Embora descreva tal ciclo para falar do que se
perdeu em potźncia na leitura de um texto simplesmente decodificando-o,
saltando a etapa do olhar e indo diretamente para a noćčo a que corresponde
aquele conjunto de caracteres, talvez seja possível, ainda, verificar tal
circularidade diante de uma pintura, experienciando-a
em sua completude.
A compreensčo da arte, literária ou pictórica,
como evento, um acontecimento em meio ą vida que nos atravessa em sua
complexidade sinestésica, que nos recobra sobre as coisas em sua totalidade e nčo em suas finalidades, como apregoou
Ernesto Souza, parece ser inevitável. Faz sentido, entčo, recuperar a abertura
da definićčo bakhtiniana de romance, cujas raízes se
encontram no modo de vida do medievo (BAKHTIN, 1998) para pensar a pintura,
assim como as noćões zumthorianas medievalistas e pré-textuais, recuperando assim o que a autoridade do poder
pela racionalidade nos fez esquecer.
Leda e o Cisne na tradićčo da pintura: mito, lenda e tradićčo oral
Na tradićčo oral, haverá tantas variantes menores de um mito quantas
forem as repetićões dele, e a quantidade de repetićões pode aumentar
indefinidamente.
Walter Ong
Leda e o Cisne foi um tema repercutido com
intensidade e é possível vislumbrarmos a forća dessa reverberaćčo no salto
desde a sua origem na oralidade até seus desdobramentos contemporČneos.
Entretanto, este nčo é o modo mais adequado de se perceber a produćčo acerca de
tal lenda, como um ponto que repercute, sendo ela o originário de tantas
produćões em diversos meios, no tempo e no espaćo.
O modo mais
adequado reside em, ao percebermos tal produćčo como repetićčo, voltarmo-nos ao seu princípio, ou seja, ąquilo que, da
própria lenda, ressoa na frequźncia da vida. Segundo Simonsen (1987, p. 5,
grifos da autora), “O mito está entre
os principais gźneros narrativos populares representados na Europa, juntamente
com a gesta ou saga, o conto, a lenda e a anedota”.
O mito, ligado a um ritual, tem um
conteúdo cosmogônico ou religioso. Simboliza as crenćas de uma comunidade, e os
acontecimentos fabulosos que ele narra sčo tidos como verídicos. [...]. A
lenda, relato de acontecimentos tidos como verídicos pelo locutor e seu
auditório, é localizada: as definićões de tempo e de lugar integram o relato
(SIMONSEN, 1987, p. 6, grifo da autora).
Assim, vemos que
a longevidade do tema se deve ą constataćčo da presenća da cultura oral, em
concomitČncia ą cultura quirográfica, como uma
constante, ainda que seja possível notarmos os diferentes níveis de influźncia
de uma sobre a outra. E é essa constČncia, ou seja, a própria vida, que mantém
ativo o que reside na lenda. Segue abaixo uma breve versčo:
OS AMORES DE ZEUS
O rei dos deuses nčo se dedicava apenas a desgraćar os homens.
Também procurava fazer as mortais felizes, sobretudo aquelas que lhe
agradavam... e foram muitas. Embora fosse casado com a deusa Hera, Zeus teve
inúmeras aventuras amorosas. Sua legítima esposa era ciumentíssima e nčo
gostava nem um pouco das escapulidas do marido. Quando vinha a saber que ele
tinha ido visitar uma mortal, ficava louca de raiva. Sua cólera só se aplacava
quando ela se vingava da mortal ou dos filhos que essa mulher tivera com o
deus. Hera estava sempre de olho em Zeus, que fazia de tudo para escapar ą sua
vigilČncia.
Zeus gostava de assumir a aparźncia de algum bicho a fim de evitar
a desconfianća de suas bonitas vítimas. Usou dessa artimanha para se aproximar
da bela Leda. A jovem acabara de se casar com Tíndaro, rei da Lacedemônia. Zeus
se transformou em cisne e, fingindo-se perseguido por uma águia, refugiou-se
junto da jovem rainha, que o acolheu em seus braćos. Aproveitando-se dessa
terna protećčo, ele se uniu a ela e lhe deixou dois ovos de tamanho incomum. De
um nasceram dois gźmeos, Castor e Pólux; do outro,
duas irmčs, Clitemnestra e Helena. Essa uničo permaneceu secreta, e Tíndaro
acreditou que tinha dado quatro filhos ą sua jovem esposa (POUZADOUX, 2001, p.
16).
Foram muitos os
artistas que retrataram Leda e o Cisne,
como Leonardo da Vinci, Tintoretto, Giovanni Boldini,
Matisse, Cézanne e tantos outros. Apesar da pluralidade iconográfica suscitada
pelo tema, através do tempo e de diferentes momentos artísticos, o destaque é
para trźs obras, a partir das quais – Figuras 1, 2 e 3, todas de mesmo
título: Leda e o cisne – serčo salientados apenas
alguns aspectos para, a partir deles, observarmos, no item subsequente, a
pintura feita por Eduardo Berliner. Na obra do francźs Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824 -1887), escultor francźs – Figura 1
– temos ainda muito da gestualidade e dos padrões clássicos da
representaćčo. Na tela de Vicente do Rego Monteiro (1899-1970), pintor brasileiro
– Figura 2 – a dinČmica é intensa tanto na espacialidade, quanto
nos aspectos pictóricos, e nos revela, em sua figuraćčo, o caráter erótico da
lenda. Em A Leda e o Cisne de Cy Twombly (1928-2011), artista norte-americano – Figura
3 –, nos deparamos com a pura intensidade com que se apresentam os
aspectos gráficos, entremeados por delicadas passagens cromáticas.
Figura 1 – Leda e o
Cisne (1870)

Albert-Ernest Carrier-Belleuse, terracota fundida, Altura
(sem base): 14 1/2 pol. (36,8 cm), Metropolitan
Museum of Art, NY.
Figura 2 – Leda e o Cisne (1947)
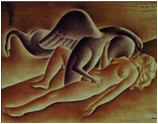
Vicente do Rego Monteiro, óleo sobre tela, 50 x 65 cm.
Figura 3 – Leda and the Swan (1962)
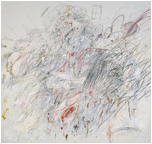
Cy Twombly, óleo, lápis e crayon sobre tela, 190,5 x 200 cm.
MoMA, NY.
Leda e o Cisne de Berliner
O erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem.
Georges Bataille
Figura 4 – Leda e o Cisne (2015)

Eduardo Berliner, óleo sobre mdf, 170 x
170 cm.
Na pintura de
fundo escuro, nota-se a vibraćčo de uma cena. As pinceladas sčo marcadas e
vigorosas, geram movimento. As figuras, em tons mais claros, saltam em primeiro
plano e tal contraste também gera certa movimentaćčo. Sčo ao todo – em
princípio – quatro elementos que brotam do fundo escuro: uma figura
humana feminina e trźs cisnes; um deles de corpo inteiro, cujo bico invade a
boca da figura humana, ao mesmo tempo em que é segurado por ela pelo pescoćo.
Dos outros dois cisnes só se vź a cabeća no canto direito e inferior da tela,
ambas surgindo de uma massa mais escura e densa. Na figura feminina, há o
movimento compositivo das pinceladas, mas, ao mesmo tempo, nota-se a rigidez
que beira ą figuraćčo de um boneco. Na parte dos cabelos dessa figura, é
possível enxergar também a cabeća de mais um cisne, que, no caso, seria o
quarto. Seguindo em observaćčo por este ponto pelo fundo da tela, dá para
perceber a continuidade de seu corpo, sugerida pelas nuances disformes do plano
escuro. Observando a parte inferior da pintura, na saia de Leda, é possível
perceber as duas mčos da figura se tocando pelas extremidades dos dedos, sendo
a da direita uma espécie de rastro do processo pictórico, atestando o caráter
dúbio, já que seria esta a mesma mčo a segurar a figura de um dos cisnes pelo
pescoćo. O caráter de dubiedade aparece, pelo menos, duas vezes em toda a
pintura.
Um dos aspectos
principais da lenda, intensamente explorado nos exemplos anteriores, é o erótico.
ň primeira vista, é possível atestar a ausźncia de tal aspecto na versčo de
Berliner. Quando o artista fala sobre suas produćões, é recorrente a afirmaćčo
de que, ao sobrepor uma coisa ą outra, a pintura nčo é mais sobre nenhuma
delas, mas sobre uma terceira coisa.
Ainda assim, ao
manter o título, invariavelmente somos levados ą lenda e ao seu teor. Esse é o
ponto em que somos colocados num jogo com os sentidos, compreendendo e
percebendo a pintura para além de seu caráter representativo, tal como diz Marcio
Doctors ao compreender a produćčo do artista: “Quando
percebi que a questčo de Eduardo Berliner na pintura era a radicalidade do
visível, entendi, entčo, o que me atraía na sua obra: diante da realidade e do
real nčo há recuo possível. [...] a arte é em potźncia; nčo representa nada
[...]” (DOCTORS, 2015, s. p).
Retomando
Ernesto Sousa, pelo menos nessa situaćčo, é como se o objeto nčo objetasse. Nčo
há aqui a representaćčo do caráter erótico, mas seu próprio teor. Na pintura de
Berliner, Leda está vestida e de branco, mas, na face escura que percorre o
fundo de toda a área pictórica, constituída por pinceladas densas, vigorosas e
agitadas, ela é o próprio cisne, o cisne, por sua vez, é Leda. Eles fundem-se
na escuridčo da tela, no espaćo interdito
da pintura. Nessa repetićčo do mito,
na cena aparecem “as crenćas de uma comunidade, e os acontecimentos fabulosos
que ele narra sčo tidos como verídico” (SIMONSEN, 1987, p. 6). Retornamos, entčo,
a um ponto do que já foi dito acerca da lenda e do mito, redimensionando-o para
o que pulsa no caso de Leda e o Cisne,
agora, segundo Bataille:
O
erotismo é, de forma geral, infraćčo ą regra dos interditos: é uma atividade
humana. Mas ainda que ele comece onde termina o animal, a animalidade nčo deixa
de ser o seu fundamento. Desse fundamento a humanidade se desvia com horror,
mas ao mesmo tempo o conserva (BATAILLE, 1987, p. 62).
Desse modo, o
teor erótico nčo está representado, como no caso das versões da lenda de Monteiro
e Carrier-Belleuse; ele é o que se apresenta na
vertigem e radicalidade dos gestos, na massa densa de tinta espalhada pela tela,
na sensualidade de cada pincelada. Apresenta-se, entčo, cada elemento, tomando
de empréstimo o termo de Derrida (apud
Deleuze), em seu aspecto “figural”
– quando, mesmo nčo abrindo mčo da figuraćčo, como foi o caso na
versčo de Cy Twombly, opõe-se ao figurativo (DELEUZE,
2007). Nesse sentido, a escassez de
vida da figura humana, e do mesmo modo no cisne negro, revela o ponto máximo do
erótico, segundo Bataille, a própria morte na fusčo
com o outro, já que “O sentido último do erotismo é a fusčo, a supressčo do
limite” (BATAILLE, 1987, p. 85).
Consideraćões finais
Qual a voz da pintura? Tudo o que nos
atravessa, depreendendo de seu campo e, simultaneamente, convergindo para ele.
Esta é a sua voz e ela, entre outras nuances, compõe a esfera da linguagem de
uma cultura, ainda que esta se perceba como sendo “da escrita”, nos movimentos
mais e menos sutis da vida. O fato é que os aspectos da oralidade e da escrita coabitam
e, em níveis distintos, alteram-se mutuamente, num processo contínuo de transformaćčo
nas qualidades de ambos. Isso tudo pode ser invisível.
Neste estudo,
ainda que de modo incipiente, tratou-se de compreender aspectos da oralidade pela
via da pintura e isso nos indica a possibilidade de ampliaćčo do campo desses
estudos. Ao mesmo tempo, ampliaram-se também as possibilidades de recepćčo,
compreensčo e análise do campo pictórico.
Embora tenhamos
considerado uma pintura de Berliner em específico, notamos que, em sua produćčo
como todo, o artista retrata situaćões aparentemente banais; no entanto, suas
configuraćões – paleta cromática, aspectos gestuais, espacialidade,
sobreposićões e justaposićões – apresentam a radicalidade com que seus
temas nos sčo apresentados, desvelando o aspecto vertiginoso e limítrofe. Em
suas pinturas é possível observar estruturas que se repetem, que se sobrepõem,
numa formulaćčo visual mais “agregrativa” do que “analítica”
(ONG, 1998). É como se aquilo que sabemos
se intensificasse (ou entrasse em xeque) na contundźncia que ganha ao tornar-se
pintura, seja com golpes sutis ou nčo de presenća, jogando com o que pensávamos
ter apreendido do mundo até entčo.
Nas páginas finais de A
letra e a voz, Paul Zumthor fala sobre a
necessidade da quebra do ciclo hegemônico que a “literatura” passa a exercer na
era clássica, primeiro na Europa e depois na América, servindo ao Estado.
Contrapõe essa situaćčo ao papel do texto poético medieval como tendo sido útil
(ZUMTHOR, 1993). Finalizo com suas palavras, compreendendo a equivalźncia da
expressčo discurso literário como correspondente ą pintura, assim como
as demais formas de arte, quando diz que “nada impedirá o discurso literário,
ainda que contra os sujeitos que o proferem, de visar a uma totalidade, e esta,
o mais das vezes, de ser recuperada e identificada a uma Ordem” (ZUMTHOR, 1993,
p. 284).
Referźncias
BATAILLE, Georges. O erotismo. Tradućčo Antonio Carlos Viana.
Porto Alegre: L&M Editores, 1987.
BAKHTIN, Mikhail. Epos
e romance: sobre a metodologia do estudo do romance. In: Questões de literatura e
de estética: a teoria do romance. Tradućčo Aurora Farnoni
Bernadini et al.
Sčo Paulo: Editora UNESP, 1998. p. 397-428.
BOURRIAUD, Nicolas. Formas de vida: a arte moderna e a reinvenćčo de si. Tradućčo
Dorothée Bruchard. Sčo Paulo: Martins Fontes, 2011.
BLANCHOT, Maurice. O espaćo literário. Tradućčo Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Editora
Rocco, 1987.
DELEUZE, Gilles. Lógica da sensaćčo. Tradućčo Roberto Machado et al. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2007.
DOCTORS, Marcio. Eduardo Berliner | A presenća da ausźncia. Rio de Janeiro: Site da Galeria
Casa TriČngulo, 2015. Disponível em: https://www.casatriangulo.com/pt/artista/9/eduardo-berliner/texto/137/a-presenca-da-ausencia-marcio-doctors/ Acesso em: 13 ago. 2020.
ONG, Walter. Oralidade e cultura escrita: a tecnologizaćčo
da palavra. Tradućčo Enid Abreu Dobránszky.
Campinas: Papirus, 1998.
POUZADOUX, Claude. Contos e lendas da mitologia grega. Tradućčo
Eduardo Brandčo. Sčo Paulo:
Companhia das Letras, 2001.
SIMONSEN, Michele. O conto popular. Tradućčo Luís Claudio de Castro e Costa. Sčo
Paulo: Martins Fontes, 1987.
SOUSA, Ernesto de. Oralidade, futuro da arte? e outros
textos. Sčo Paulo: Escrituras Editora, 2011. p. 23-42.
ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz. Tradućčo Amálio
Pinheiro, Jerusa Pires Ferreira. Sčo Paulo: Companhia das Letras, 1993.
_________. Performance, recepćčo, leitura. Tradućčo Jerusa Pires Ferreira e
Suely Fenerich. Sčo Paulo: Cosac Nayf,
2007.
Vídeos
ARTE! Brasileiros - Eduardo Berliner fala
sobre “Corpo em Muda”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6DFgwbCWBZc Acesso em: 9 ago. 2020.
Trecho do programa de tv sobre arte contemporČnea, CATÁLOGO, de Marcos Ribeiro, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YER6ZYUyAFQ Acesso em: 9 ago. 2020.
Imagens
Figura 1 Leda e o Cisne -
escultura da colećčo do Metropolitan Museum of Art NY. Disponível em:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/206819 . Acesso em: 8 ago. 2020.
Figura 2 LEDA e o Cisne. In:
ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. Sčo Paulo: Itaú
Cultural, 2020. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2506/leda-e-o-cisne. Acesso em: 8 ago.
2020. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7.
Figura 3 Leda e o Cisne de Cy Twombly. Disponível em: https://www.moma.org/collection/works/80083 Acesso em: 10 ago. 2020.
Figura 4 A imagem da pintura do
artista Eduardo Berliner está em seu portfólio, publicizado pela Casa
TriČngulo, galeria de arte que o representa. O material está disponível em: https://www.casatriangulo.com/media/pdf/EB_portfolio2019.pdf Acesso em: 10 ago. 2020.
[Recebido:
15 ago 2020 – Aceito: 15 out 2020]